

Este texto é resposta à dois anónimos num debate que esta a decorrer aqui.
Ao ler os comentários dos anónimos fico com a impressão de que não se trata da mesma pessoa. Fico com tal impressão porque a tonalidade e a forma de tratamento também me parece ter mudado para melhor. Há vontade de debater, respeitando as diferenças de pensamento. Isso representa uma melhoria na qualidade do debate. A inconveniência do anonimato revela-se, quanto a mim, nestas ocasiões. Não sabemos a quem nos dirigimos.
O primeiro anónimo a quem me dirijo, agora, levantou questões de fundo, mesmo que em algum momento sinta uma certa dose de ironia. Mas isso não é o mais importante. Existe a natureza? E a SIDA, e a pobreza? Não serão todas essas entidades puras representações? São as questões que me coloca. Estas questões e as entidades a que se referem parecem-me estar relacionadas com a ideia que o anónimo faz de facto, portanto que se contrapõe ao que considera minhas ideias filosóficas. Devemos nos preocupar com “factos” (documentados) e “não apenas com filosofias” defende.
Outro anónimo, suponho, sugere, e com alguma razão, que eu distinga entre desmatamento/desflorestamento e alterações climáticas. O seu argumento é de que o primeiro fenómeno se refere a “eliminação das florestas”, abate indiscriminado das árvores independentemente das consequências que ela pode trazer para a economia, o meio ambiente e tudo o resto”. Na mesma linha do primeiro anónimo, o segundo sugere a distinção entre fenómeno real e fenómeno abstracto. Diz ele “... não se trata de um fenómeno abstracto e inquantificável, como o Patrício pretende querer discutir através de citações e argumentos teóricos. Trata-se de um fenómeno real e com factos observáveis”.
Penso que o cerne da questão reside, precisamente, nessa distinção. E dela, segundo percebi, radica a importância dada, na réplica as minhas posições, a preocupação com o desmatamento/desflorestamento. Este fenómeno, na óptica dos meus interlocutores, é factual/real e não abstracto como, segundo eles, eu tento provar. Dai as perguntas do primeiro anónimo sobre se a natureza, o SIDA, e a pobreza existem.
Para ser provocativo, no bom sentido do termo, declaro, aqui e agora, que essas coisas não existem. Não existe natureza, não existe SIDA, não existe pobreza. Atenção. Não existe, até que nós os criemos! E essa criação é por via da abstracção. Por outras palavras, é pela via discursiva e argumentativa que as criamos. Mas permitam-me, antes de me defender, retomar a distinção entre facto e abstracção, entre fenómeno real e fenómeno abstracto. Preciso para tal de me socorrer de, pelo menos, um autor para não estar aqui a dizer asneiras. Para o desagrado dos meus interlocutores tratasse de um filósofo. John Rogers Searle. As ideias de Searle que me vão ajudar a fundamentar o que pretendo defender foram extraídas dum livrinho que ele publicou em 1999 intitulado “Mind, Language and Society”. No entanto, essas ideias foram originalmente publicadas num livro intitulado “Construção da realidade social” de 1995. Não tive como evitá-lo, pelas perguntas que me colocaram. Aliás eu poderia, com relação ao primeiro anónimo, ter retorquido e perguntado: - como é que sabe que a natureza, o SIDA e a pobreza existem? E já agora, desmatamento/desflorestamento? O que é que lhe dá a certeza de que sabe que essas coisas existem? Como é que toma essas coisas por adquiridas? Com certeza, se fizesse o exercício de tentar responder a estas e as perguntas que me coloca iria concordar comigo. Mas alguém ensinou-me a não responder perguntas com perguntas e por isso, não precisa as responder. Mas terão de me perdoar, porque vou alongar-me um pouco.
Facto bruto e factos sociais
“There is a real world that exists independently of us, independently of our experiences, our thoughts, our language”.p10. Com esta primeira citação os meus interlocutores já devem estar a dizer: - certo, não há novidade alguma nisso. Foi o que dissemos de alguma maneira. Temos, portanto, razão. Searle sugere-nos, passo a traduzir, que: existe um mundo real independentemente de nós, independentemente da nossa experiência, nossos pensamentos, nossa linguagem. Como cidadão, e leigo, talvez me desse por satisfeito. Mas um espírito maligno chamado sociologia encarnou em mim. E por causa desse espírito dei ouvido a certas correntes filosóficas que defendem a todo custo que o mundo não existe, que tudo não passa da nossa imaginação. Essas correntes são denominadas de construtivistas. Um livro representativo dessa corrente é intitulado “A construção social da realidade”. Os mais atentos devem ter percebido que o livro de Searle parece e é uma réplica a este. Searle critica essa ideia de que tudo é socialmente construído. Fá-lo com a mesma avidez com que os meus interlocutores tentam me provar que o desmatamento/desflorestamento não é fantasia. A posição de Searle, assim como a dos meus interlocutores, se designa de realista. É por isso que me estão a acusar de ser teórico, filosófico e até lunático. Mas para o caso dos meus interlocutores existe uma dose de incompreensão do meu argumento. Searle argumenta que o mundo é feito de algo mais além da nossa imaginação. Na sua óptica o mundo é feito de factos objectivos. E para tal ele introduz uma distinção fundamental entre dois tipos de factos. Por um lado, existem os factos brutos e por outro os factos sociais. Os primeiros enceram o sentido da citação mais acima, nomeadamente, a de que os factos objectivos existem independentemente da nossa vontade, pensamento, experiência e linguagem. Uma arvore, na Zambézia, aqueles toros muito bem reportados pelo professor Serra no seu blog, não vão deixar de existir, de ser um facto objectivo, só por que eu, por exemplo, os resolvi chamar de mercadoria ou matéria prima para os Chineses. Por seu turno, contrariamente aos factos brutos os factos sociais dependem do pensamento humano para a sua existência. Por exemplo, quando aquelas árvores passam a ser toros, madeira e depois cadeira, mesa e por essa via mercadorias comercializáveis. A árvore e o toro existem independente da nossa da nossa vontade e pensamento, mas o significado do toro como mercadoria é um facto socialmente construído. Tudo isto é para sugerir que desmatamento/desflorestamento não é um facto bruto, mas um facto socialmente construído. E por extensão poderia falar da natureza do SIDA e da pobreza.
Nas minhas intervenções anteriores, procurei demonstrar como essa ideia de desmantamento/desflorestamento, no contexto do debate que tem estado a ser feito, resulta da sua relação com o que designei de luta pela definição de risco ambiental. Não se está, simplesmente, a sugerir que se proteja a floresta por proteger a floresta. Se assim o fosse, começávamos a implodir com todas as cidades e retornávamos ao “Bom Selvagem” de que nos fala Severino Ngoenha. Esta se a sugerir, isso sim, uma relação com as mudanças climáticas e com todo um discurso ambientalista que se tende a universalizar. O risco ambiental não existe por si só independentemente da nossa vontade, pensamento, linguagem. Não é, portanto, um facto bruto. Ao contrário, é socialmente construído. Os processos constitutivos variam de lugar para lugar. Estudemos os processos constitutivos dos riscos na nossa sociedade. Não falemos por falar, apenas, do desmatamento/desflorestamento. Principalmente quando essas falas são politicamente orientadas e motivadas. E para terminar, eu é que pergunto, o desmatamento/desflorestamento existe? [Fim da resposta]
Ao ler os comentários dos anónimos fico com a impressão de que não se trata da mesma pessoa. Fico com tal impressão porque a tonalidade e a forma de tratamento também me parece ter mudado para melhor. Há vontade de debater, respeitando as diferenças de pensamento. Isso representa uma melhoria na qualidade do debate. A inconveniência do anonimato revela-se, quanto a mim, nestas ocasiões. Não sabemos a quem nos dirigimos.
O primeiro anónimo a quem me dirijo, agora, levantou questões de fundo, mesmo que em algum momento sinta uma certa dose de ironia. Mas isso não é o mais importante. Existe a natureza? E a SIDA, e a pobreza? Não serão todas essas entidades puras representações? São as questões que me coloca. Estas questões e as entidades a que se referem parecem-me estar relacionadas com a ideia que o anónimo faz de facto, portanto que se contrapõe ao que considera minhas ideias filosóficas. Devemos nos preocupar com “factos” (documentados) e “não apenas com filosofias” defende.
Outro anónimo, suponho, sugere, e com alguma razão, que eu distinga entre desmatamento/desflorestamento e alterações climáticas. O seu argumento é de que o primeiro fenómeno se refere a “eliminação das florestas”, abate indiscriminado das árvores independentemente das consequências que ela pode trazer para a economia, o meio ambiente e tudo o resto”. Na mesma linha do primeiro anónimo, o segundo sugere a distinção entre fenómeno real e fenómeno abstracto. Diz ele “... não se trata de um fenómeno abstracto e inquantificável, como o Patrício pretende querer discutir através de citações e argumentos teóricos. Trata-se de um fenómeno real e com factos observáveis”.
Penso que o cerne da questão reside, precisamente, nessa distinção. E dela, segundo percebi, radica a importância dada, na réplica as minhas posições, a preocupação com o desmatamento/desflorestamento. Este fenómeno, na óptica dos meus interlocutores, é factual/real e não abstracto como, segundo eles, eu tento provar. Dai as perguntas do primeiro anónimo sobre se a natureza, o SIDA, e a pobreza existem.
Para ser provocativo, no bom sentido do termo, declaro, aqui e agora, que essas coisas não existem. Não existe natureza, não existe SIDA, não existe pobreza. Atenção. Não existe, até que nós os criemos! E essa criação é por via da abstracção. Por outras palavras, é pela via discursiva e argumentativa que as criamos. Mas permitam-me, antes de me defender, retomar a distinção entre facto e abstracção, entre fenómeno real e fenómeno abstracto. Preciso para tal de me socorrer de, pelo menos, um autor para não estar aqui a dizer asneiras. Para o desagrado dos meus interlocutores tratasse de um filósofo. John Rogers Searle. As ideias de Searle que me vão ajudar a fundamentar o que pretendo defender foram extraídas dum livrinho que ele publicou em 1999 intitulado “Mind, Language and Society”. No entanto, essas ideias foram originalmente publicadas num livro intitulado “Construção da realidade social” de 1995. Não tive como evitá-lo, pelas perguntas que me colocaram. Aliás eu poderia, com relação ao primeiro anónimo, ter retorquido e perguntado: - como é que sabe que a natureza, o SIDA e a pobreza existem? E já agora, desmatamento/desflorestamento? O que é que lhe dá a certeza de que sabe que essas coisas existem? Como é que toma essas coisas por adquiridas? Com certeza, se fizesse o exercício de tentar responder a estas e as perguntas que me coloca iria concordar comigo. Mas alguém ensinou-me a não responder perguntas com perguntas e por isso, não precisa as responder. Mas terão de me perdoar, porque vou alongar-me um pouco.
Facto bruto e factos sociais
“There is a real world that exists independently of us, independently of our experiences, our thoughts, our language”.p10. Com esta primeira citação os meus interlocutores já devem estar a dizer: - certo, não há novidade alguma nisso. Foi o que dissemos de alguma maneira. Temos, portanto, razão. Searle sugere-nos, passo a traduzir, que: existe um mundo real independentemente de nós, independentemente da nossa experiência, nossos pensamentos, nossa linguagem. Como cidadão, e leigo, talvez me desse por satisfeito. Mas um espírito maligno chamado sociologia encarnou em mim. E por causa desse espírito dei ouvido a certas correntes filosóficas que defendem a todo custo que o mundo não existe, que tudo não passa da nossa imaginação. Essas correntes são denominadas de construtivistas. Um livro representativo dessa corrente é intitulado “A construção social da realidade”. Os mais atentos devem ter percebido que o livro de Searle parece e é uma réplica a este. Searle critica essa ideia de que tudo é socialmente construído. Fá-lo com a mesma avidez com que os meus interlocutores tentam me provar que o desmatamento/desflorestamento não é fantasia. A posição de Searle, assim como a dos meus interlocutores, se designa de realista. É por isso que me estão a acusar de ser teórico, filosófico e até lunático. Mas para o caso dos meus interlocutores existe uma dose de incompreensão do meu argumento. Searle argumenta que o mundo é feito de algo mais além da nossa imaginação. Na sua óptica o mundo é feito de factos objectivos. E para tal ele introduz uma distinção fundamental entre dois tipos de factos. Por um lado, existem os factos brutos e por outro os factos sociais. Os primeiros enceram o sentido da citação mais acima, nomeadamente, a de que os factos objectivos existem independentemente da nossa vontade, pensamento, experiência e linguagem. Uma arvore, na Zambézia, aqueles toros muito bem reportados pelo professor Serra no seu blog, não vão deixar de existir, de ser um facto objectivo, só por que eu, por exemplo, os resolvi chamar de mercadoria ou matéria prima para os Chineses. Por seu turno, contrariamente aos factos brutos os factos sociais dependem do pensamento humano para a sua existência. Por exemplo, quando aquelas árvores passam a ser toros, madeira e depois cadeira, mesa e por essa via mercadorias comercializáveis. A árvore e o toro existem independente da nossa da nossa vontade e pensamento, mas o significado do toro como mercadoria é um facto socialmente construído. Tudo isto é para sugerir que desmatamento/desflorestamento não é um facto bruto, mas um facto socialmente construído. E por extensão poderia falar da natureza do SIDA e da pobreza.
Nas minhas intervenções anteriores, procurei demonstrar como essa ideia de desmantamento/desflorestamento, no contexto do debate que tem estado a ser feito, resulta da sua relação com o que designei de luta pela definição de risco ambiental. Não se está, simplesmente, a sugerir que se proteja a floresta por proteger a floresta. Se assim o fosse, começávamos a implodir com todas as cidades e retornávamos ao “Bom Selvagem” de que nos fala Severino Ngoenha. Esta se a sugerir, isso sim, uma relação com as mudanças climáticas e com todo um discurso ambientalista que se tende a universalizar. O risco ambiental não existe por si só independentemente da nossa vontade, pensamento, linguagem. Não é, portanto, um facto bruto. Ao contrário, é socialmente construído. Os processos constitutivos variam de lugar para lugar. Estudemos os processos constitutivos dos riscos na nossa sociedade. Não falemos por falar, apenas, do desmatamento/desflorestamento. Principalmente quando essas falas são politicamente orientadas e motivadas. E para terminar, eu é que pergunto, o desmatamento/desflorestamento existe? [Fim da resposta]
Parte 2
A questão ambiental: Moçambique, uma sociedade de risco?
Ulrich Beck é um sociologo Alemão que se tornou mais conhecido após a publicação e o sucesso de venda do seu livro, Risk Society: Towards a New Modernity em 1986. Beck defende nesse livro que o desenrolar de processos que estão conduzindo a modernidade rumo à uma outra modernidade, isto é, rumo à uma sociedade de Risco. Para Beck, a primeira modernidade pode ser descrita como sendo baseada em sociedades de Estado-Nação, onde as redes de relações sociais e comunitárias são essencialmente entendidas no sentido territorial, onde também, um modelo de vida colectiva, crença no progresso e na contrability,[1] emprego para todos, exploração da natureza são características predominantes. No entender deste autor esse estágio está sendo minado e destruído por cinco processos interligados, nomeadamente: a Globalização, a individualização, a revolução do género, o subemprego e os riscos globais tais como a crise ecológica e os choques dos mercados financeiros, dando origem ao que denomina de segunda modernidade ou modernidade da modernidade.
De acordo com Beck estes processos são resultado das consequências nunca antes observadas da vitória da primeira modernidade, centrada na industrialização. Porém, tais processos têm conduzido as ideias de controlabilidade, de certeza ou segurança, asseguradas pela crença na autoridade da racionalidade da ciência, ao colapso. Certamente este quadro explicativo se aplica sem muitos problemas de adequação a maioria dos países industrializados. Interessante seria saber até que ponto este quadro se aplica aos contextos sócio-históricos não ocidentais ou se quisermos que não experimentaram sequer a primeira revolução industrial? Que perspectivas teórico-práticas Beck nos fornece para explicar realidades como a de Moçambique?
Para o autor de “Risk society” também escreveu “World Risk society”, que traduzido daria algo como sociedade de risco global, onde sociedades ocidentais compartilham com as não-ocidentais não somente o mesmo espaço e tempo, mas também e mormente os mesmos desafios básicos da segunda Modernidade, embora em diferentes lugares (geográficos) e com diferentes percepções. Beck considera ainda ser importante sublinhar este aspecto identitário, revendo a tendência evolucionária que afecta as ciências sociais ocidentais, de relegar as sociedades não-ocidentais para a categoria do tradicional ou pré-moderno e desta forma definidas não nos seus próprios termos, mas como o oposto ou destituídas das características da modernidade.
A modernidade foi marcada por diferentes e, em alguns casos, divergentes trajectórias nos distintos contextos sócio-históricos. Assim é preciso conceituá-la, especialmente, no âmbito da segunda modernidade, num sentido pluri-dimensional. A crescente celeridade, expansividade, intensidade e significação dos processos de interdependência transnacional, o progresso nos discursos da globalização económica, cultural, política e societal sugerem que, não somente as sociedades não-ocidentais devem ser incluídas em qualquer análise dos desafios da segunda modernidade, mas também, as refracções e reflexões específicas do global precisam ser examinadas nos diferentes contextos da emergente sociedade global. A sociedade de risco, desta maneira, é entendida na sua pluri-dimensionalidade de contextos sócio-históricos, como uma constelação social, uma ordem social, global e globalizante, isto é, uma “Sociedade de Risco Global” cujas dimensões, algumas, são: a) os processos de (re)produção de riscos ambientais globais, b) o colapso do monopólio da racionalidade científica, c) o crescimento da incerteza e insegurança e d) a “sub-politica” ou a “destradicionalização” das esferas de decisão e da política.
O aspecto central no tratamento sociológico da questão ambiental pela sociologia é de que ela é resultado duma crítica específica à modernidade ocidental. Este é o meu entendimento das propostas teóricas de Beck e Giddens, este Segundo, sociólogo Britanico, que com Beck partilha boa parte de suas visões. A segunda modernidade caracteriza-se pela produção de riscos e o movimento ambientalista constitui uma resposta, um mecanismo de socializar e domesticar esses riscos. Uma das características da produção de risco é o seu alcance global, o qual desencadeia processos idênticos em todos países. A produção de risco manifesta-se de várias formas e têm determinadas consequências, talvez seja possível identificar estas manifestações e consequências com uma modernidade moçambicana, mas esse assunto é demasiado vasto para ser tratado aqui.
[1] A tradução mais próxima que encontro para o termo é ”controlabilidade”, ou seja, a capacidade de controle (NT).
Ulrich Beck é um sociologo Alemão que se tornou mais conhecido após a publicação e o sucesso de venda do seu livro, Risk Society: Towards a New Modernity em 1986. Beck defende nesse livro que o desenrolar de processos que estão conduzindo a modernidade rumo à uma outra modernidade, isto é, rumo à uma sociedade de Risco. Para Beck, a primeira modernidade pode ser descrita como sendo baseada em sociedades de Estado-Nação, onde as redes de relações sociais e comunitárias são essencialmente entendidas no sentido territorial, onde também, um modelo de vida colectiva, crença no progresso e na contrability,[1] emprego para todos, exploração da natureza são características predominantes. No entender deste autor esse estágio está sendo minado e destruído por cinco processos interligados, nomeadamente: a Globalização, a individualização, a revolução do género, o subemprego e os riscos globais tais como a crise ecológica e os choques dos mercados financeiros, dando origem ao que denomina de segunda modernidade ou modernidade da modernidade.
De acordo com Beck estes processos são resultado das consequências nunca antes observadas da vitória da primeira modernidade, centrada na industrialização. Porém, tais processos têm conduzido as ideias de controlabilidade, de certeza ou segurança, asseguradas pela crença na autoridade da racionalidade da ciência, ao colapso. Certamente este quadro explicativo se aplica sem muitos problemas de adequação a maioria dos países industrializados. Interessante seria saber até que ponto este quadro se aplica aos contextos sócio-históricos não ocidentais ou se quisermos que não experimentaram sequer a primeira revolução industrial? Que perspectivas teórico-práticas Beck nos fornece para explicar realidades como a de Moçambique?
Para o autor de “Risk society” também escreveu “World Risk society”, que traduzido daria algo como sociedade de risco global, onde sociedades ocidentais compartilham com as não-ocidentais não somente o mesmo espaço e tempo, mas também e mormente os mesmos desafios básicos da segunda Modernidade, embora em diferentes lugares (geográficos) e com diferentes percepções. Beck considera ainda ser importante sublinhar este aspecto identitário, revendo a tendência evolucionária que afecta as ciências sociais ocidentais, de relegar as sociedades não-ocidentais para a categoria do tradicional ou pré-moderno e desta forma definidas não nos seus próprios termos, mas como o oposto ou destituídas das características da modernidade.
A modernidade foi marcada por diferentes e, em alguns casos, divergentes trajectórias nos distintos contextos sócio-históricos. Assim é preciso conceituá-la, especialmente, no âmbito da segunda modernidade, num sentido pluri-dimensional. A crescente celeridade, expansividade, intensidade e significação dos processos de interdependência transnacional, o progresso nos discursos da globalização económica, cultural, política e societal sugerem que, não somente as sociedades não-ocidentais devem ser incluídas em qualquer análise dos desafios da segunda modernidade, mas também, as refracções e reflexões específicas do global precisam ser examinadas nos diferentes contextos da emergente sociedade global. A sociedade de risco, desta maneira, é entendida na sua pluri-dimensionalidade de contextos sócio-históricos, como uma constelação social, uma ordem social, global e globalizante, isto é, uma “Sociedade de Risco Global” cujas dimensões, algumas, são: a) os processos de (re)produção de riscos ambientais globais, b) o colapso do monopólio da racionalidade científica, c) o crescimento da incerteza e insegurança e d) a “sub-politica” ou a “destradicionalização” das esferas de decisão e da política.
O aspecto central no tratamento sociológico da questão ambiental pela sociologia é de que ela é resultado duma crítica específica à modernidade ocidental. Este é o meu entendimento das propostas teóricas de Beck e Giddens, este Segundo, sociólogo Britanico, que com Beck partilha boa parte de suas visões. A segunda modernidade caracteriza-se pela produção de riscos e o movimento ambientalista constitui uma resposta, um mecanismo de socializar e domesticar esses riscos. Uma das características da produção de risco é o seu alcance global, o qual desencadeia processos idênticos em todos países. A produção de risco manifesta-se de várias formas e têm determinadas consequências, talvez seja possível identificar estas manifestações e consequências com uma modernidade moçambicana, mas esse assunto é demasiado vasto para ser tratado aqui.
[1] A tradução mais próxima que encontro para o termo é ”controlabilidade”, ou seja, a capacidade de controle (NT).
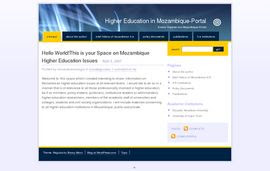

5 comments:
patrício, não te deixes amedrontar por gente anónima, sem coragem de dar na cara em defesa das ideias que defendem. não deixes de reflectir o país da melhor maneira que achas poder fazê-lo, isto é tomando as suas condições como um desafio intelectual. os que te acusam de lunático hoje, vão precisar da tua reflexão amanhã para ajudar a perceber a confusão que eles possam, por ventura, semear hoje com a sua impetuosidade. penso que o teu recurso a searle e à sociologia do risco é útil e é desse tipo de reflexões que estamos a precisar. vais, contudo, precisar de reflectir sobre o fenómeno em si, também, e ajudar a problematizá-lo. independentemente dos contornos do discurso que tornam esta preocupação real, tens também que ajudar na formulação do próprio problema. penso que a discussão sobre a desmatação se está a revelar pobre por não querer ser mais profunda. não me parece que o problema seja o da corrupção como repetidamente se diz, mas reconheço a utilidade desse diagnóstico para a acção. o problema parece-me ser profundamente político, isto é muito ligado ao espaço de acção que é concedido ao indivíduo e às comunidades no nosso sistema político. não percebo porque sendo o problema a corrupção (e todos são corruptos) o governo ou o presidente hão-de querer agir. é neste ponto onde eu, pessoalmente, acho que é perigoso um académico responder à sua consciência cívica ao mesmo tempo que procura satisfazer as exigências do trabalho académico. em algum momento tem de deixar de pensar para agir. o truque é identificar esse momento. precisamos de fazer qualquer coisa pelas florestas moçambicanas, mas não estou certo se o diagnóstico que fazemos é correcto. em tempos analisei o relatório da mackenzie no meu blogue. talvez fosse bom voltarmos a esse debate.
Elísio. Obrigado pelo encorajamento. Não me vou deixar amedrontar pelos anónimos ou os que me acham lunáticos. Vamos tentar pensar este país com os instrumentos de que dispomos. Não te cansas de nos dar exemplos nesse sentido, e isso não quer dizer que não tenhas as tuas convicções politicas. Afinal, todos as temos. Mas convicções políticas não fazem diagnósticos “científicos”, mesmo que tenham tal pretensão. Realmente, falta formular, efectivamente, o problema. Algures no início deste debate sugerira que o problema poderia, também, ser visto do ponto de vista da fragilidade institucional para zelar pela floresta. Ficou evidente a fraca capacidade de fiscalização. Firam apresentados dados sobre o rácio entre número de guardas-fiscais e áreas por controlar. Uma diferença inimaginável. Quem sabe seria o caso de se privatizar o controle das florestas, mais ou menos ao estilo do que se havia feito com as alfândegas ao o sede-la à Crown Agents? Podíamos falar por exemplo da vigilância marítima. Quanta gente vem se servir do camarão Moçambicano sem que alguém se quer saiba? Um autêntico self-service.Com as florestas não parece ser muito diferente. Isto remete-nos de novo para a sua sugestão de ver o problema como “profundamente político, isto é muito ligado ao espaço de acção que é concedido ao indivíduo e às comunidades no nosso sistema político”. Existem Moçambicanos que produzem e organizam a sua existência a partir do uso desses recursos. Como é que essas pessoas articulam e veiculam seus interesses, incluído o da preservação desses recursos para a sua própria auto-preservação? Precisam de representantes? Que representantes? Movimentos sociais? Se sim constituídos por quem? Amigos da natureza, do ambiente? Num pais como Moçambique o que significam esse tipo de acções colectivas? Elas são representativas dos interesses das comunidades ou falam, apenas, em nome delas? Eu estudei a constituição dum desses movimentos ambientalistas. Legitimou-se em nome das comunidades e da diversidade de participantes. Iniciou, dizem, com uma denúncia no antigo jornal Metical do malogrado jornalista Carlos Cardoso. Pouco mais de 10 anos depois, tornou-se uma ONG ambientalista. Meia dúzia de cidadãos de “classes media” vivem das benesses da articulação do discurso ambientalista. Viajam para tudo que é canto. Da comunidade, apenas restou o líder comunitário que uma ou duas vezes por ano é convidado para um banquete.
A perspectiva de risco que adoptei parece-me ter o mérito de reconhecer que diferentes grupos com diferentes interesses comparticipam na definição dos riscos. A questão é saber como estão esses grupos representados. E esse espaço, suponho, deveria ser conferido em primeiro lugar pelo sistema político.
a luta continua, então! penso que um bom ponto de partida para começarmos a procurar soluções (!) seria a política do presidente guebuza de dar maior autonomia aos distritos. um amigo consultor que esteve recentemente em nampula e zambézia disse-me ter conhecimento de casos de comunidades locais que se organizaram para controlar o corte e transporte de madeiras exigindo as respectivas licenças e pedindo confirmação, por parte das autoridades provinciais, que 20 por cento do valor dessas licenças foram debitadas na sua conta. em parte, as florestas moçambicanas são vítimas de uma concepção centralizada do estado que revela pouca vontade de conceptualização da nossa vida política.
Mas parecem ficar perguntas no ar:
1. Não há, na opinião de Elíseo Macamo e Patrício Langa, qualquer interesse em averiguar as causas do não cumprimento dos regulamentos existentes? Dão o assunto por encerrado?
2. Considerando que têm sido praticamente ignoradas as denúncias e queixas das autoridades distritais e locais feitas até agora, será que a intenção de descentralização provém de alguma vontade genuína? Virá a ter algum efeito?
3. E até se conseguir um mínimo do chamado empowerment, em termos mais palpáveis do que a simples criação de estruturas e definição de funções, das comunidades distritais e locais, que se deverá fazer?
desculpem-me a reacção tardia, estive longe da internet nos últimos dias. o comentador anónimo levanta as perguntas que a militância estava a dar por encerradas. ainda bem. pessoalmente, acho que há todo o interesse em averiguar as causas do não cumprimento dos regulamentos existentes. e o meu palpite é que essas causas têm muito pouco a ver com a "corrupção" e mais a ver com a estrutura política e administrativa. prestar maior atenção a isto e, sobretudo, à emancipação das comunidades locais da tutela central do estado pode ser crucial para começarmos a ensaiar soluções para o problema. isto é tanto mais necessário quanto as denúncias e queixas têm sido, segundo o comentário anónimo, ignoradas. porque haviam os corruptos de reagir aos apelos dos críticos? para mim o desafio não está em esperar até que haja "um mínimo de empowerment". não creio que a opção seja entre ficar à espera disso e não fazer nada. temos também que perceber melhor o problema. receio que os que mais barulho fazem sobre as florestas (tanto os "críticos" quanto os "apologistas") puramente não percebem o problema e querem votar as pessoas ao silêncio com a sua respectiva insistência de que é preciso agir ou que quem apela à acção é anti-patriótico.
Post a Comment