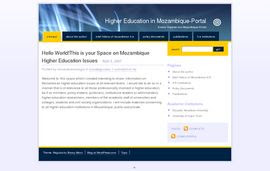A infalibilidade do acaso (Leia a primeira parte deste texto aqui)
A infalibilidade do acaso (Leia a primeira parte deste texto aqui)Quanto mais me dedico à tarefa de estudar a indústria do desenvolvimento mais me convenço de alguma da sua futilidade, mas também da ideia de que esta gente nos ajuda apenas para poder nos ajudar. As minhas razões não são as que são regularmente apresentadas por alguns dos seus críticos. Dum lado temos gente como a zambiana Dambisa Moyo ou o queniano James Shikwati que volta e meia nos vêem cantar as virtudes do neo-liberalismo e criticam o auxílio ao desenvolvimento por justamente limitar os espaços do empreendedorismo e promover a cultura de dependência dos nossos governantes e governados. Doutro lado temos combatentes ideológicos temperados em batalhas de longa data como o egípcio Samir Amin ou Yash Tandon, director do Centro Sul em Genebra, que preferem colocar a responsabilidade pelas limitações do auxílio ao desenvolvimento na sua economia política. A minha posição é mais simples – ou, dependendo da perspectiva do leitor, mais complicada. Para qualquer das duas posições existem razões que me parecem perfeitamente plausíveis, mas uma coisa que nenhuma delas questiona – e que me parece de capital importância – é a causalidade linear sobre a qual assenta a prerrogativa daqueles que nos ajudam de nos ajudarem.
Somos todos prisioneiros da ilusão de que os que estão bem hoje sabem porque estão bem. Dito doutro modo, eles estão bem hoje porque fizeram as coisas certas – e sabiam-no na altura – razão pela qual eles se podem permitir o luxo de nos dizerem o que devemos fazer para estarmos bem. Não há maldade nesta ilusão, antes pelo contrário, há, provavelmente, um compromisso sério com o nosso bem-estar, razão pela qual eles ficam impacientes connosco quando não fazemos as coisas como devia ser. Esta é uma das ideias mais destrutivas do auxílio ao desenvolvimento porque torna os seus profissionais impenetráveis ao diálogo, arrogantes em relação ao que pensam saber e intransigentes nas suas posições. O milagre económico asiático é um mistério total – visto a partir das receitas da altura – mas como nós os humanos somos muito bons a prever o... Passado, não temos nenhuma dúvida em relação ao que explica aquele milagre. A China mandou passear a democracia, os direitos humanos e a abstenção do Estado na economia, e está ali onde está. Os profissionais da indústria do desenvolvimento, coadjuvados por consultores de vária ordem, têm naturalmente explicação para o milagre chinês e essa explicação é tão evidente quanto a naturalidade com a qual eles nos dizem para fazermos isto mais aquilo.
O meu argumento aqui é que é precisa muita arrogância para alguém pensar que se pode valer da sua experiência do passado para medicar outros. Muita mesmo. E este é para mim outro dos grandes problemas desta indústria. Sentir-me-ia mais à vontade com a indústria do desenvolvimento se fosse possível criar um regime jurídico internacional que permitisse que os países receptores de ajuda processassem os “parceiros” por maus conselhos. Aí diminuía radicalmente a apetência por andar a dizer aos outros o que devem fazer. Só que é mais do que claro que nada disso vai acontecer, razão pela qual o estatuto de “parceiro” confere a alguém que mal conhece o seu próprio passado histórico, a razão do sucesso económico do seu país e os factores que condicionam o bom desempenho político andar a impor condições – em contravenção do espírito da declaração de Paris que o seu país, sem coerção, aprovou – para desembolsar dinheiro. Antes que alguém me pergunte se sou, portanto, a favor da fraude eleitoral, da partidarização do Estado e da corrupção, apresso-me a dizer que essa não é a questão. A questão é se alguém de fora da nossa comunidade política pode ter a prerrogativa de determinar as prioridades da nossa agenda política sem que tenhamos a possibilidade de um dia o responsabilizar pelos seus bem intencionados conselhos se eles, por alguma razão, não derem certo. Que eles não queiram dar dinheiro é uma coisa, mas andar a impor condições para nos darem esse dinheiro por acharem que sabem o que é bom para nós é outra coisa. Poder sem responsabilidade não dá.
Há duas saídas que vejo para o imbróglio em que nos meteram os nossos “parceiros”. O governo, receoso de não poder continuar a sustentar as regalias dos seus membros, pode vergar-se à vontade dos nossos amigos e tomar decisões dramáticas contra a corrupção – pode, por exemplo, instrumentalizar as sentenças do caso “Aeroportos” para esse efeito – contra a partidarização e mandar repetir as eleições em alguns pontos – e se voltar a ganhar, manda repetir até o povo perceber o que se pretende. Na verdade, os cerca de 500 milhões de dólares doem mais aos que vivem da indústria do desenvolvimento – governo, aparelho de estado, consultores, cooperantes e gastronomia – do que à maioria dos que são pobres no país, pois esses, salvo os casos em que recebem ajuda em espécie, vão precisar de muitos e muitos anos para começar a sentir a diferença que essa ajuda faz aos seus níveis de vida. Se começarem.
Ou, então, o governo manda passear os “parceiros” e não adia mais a importante tarefa de continuar com a obra iniciada com a nossa independência em 1975. Não faz mal recordar, ainda que possa parecer exagerado, que essa independência não nos foi dada de bandeja, nem foi apoiada de forma incondicional pelos nossos “parceiros”. Isto não é nenhum apelo à teimosia, mas nos verdadeiros momentos da nossa vida valeu a nossa própria noção do que é correcto, e não o que os outros acharam prioritário. A coisa está a ficar cada vez mais emocional, mas é preciso dizer isto: há gente que deu a sua vida para que um dia tivéssemos a prerrogativa de tomar as nossas próprias decisões. Quando pesarmos os prós e os contras de ceder ou não à pressão chantagista dos nossos amigos não nos devemos esquecer disso.
Não está tudo bem connosco, com o nosso governo, sistema político, distribuição de oportunidades, etc. Na verdade, até há muita coisa que está mal. Embora não saibamos qual é a relação entre democracia e desenvolvimento, sobretudo porque a experiência dos outros países não nos permite estabelecer com certeza estas correlações – apesar de tudo quanto se diz por aí – a democracia deve ser uma aposta no nosso caso, pois é justamente o que uma boa parte de nós queremos. E essa é e deve ser a única razão para apostarmos na democracia; não devemos apostar nela porque alguém diz que ela nos vai trazer o desenvolvimento; devemos apostar nela porque é o que muitos de nós queremos, para além de nos proporcionar o melhor quadro socio-político para darmos expressão, forma e conteúdo ao que tem orientado o nosso devir histórico: a realização da nossa dignidade.
É desta convicção que o nosso governo precisa para se manter firme perante a intromissão estrangeira nos nossos assuntos. A firmeza da sua posição vai ser tanto mais forte quanto maior for o seu compromisso com a dignidade dos moçambicanos, dignidade essa que passa por um empenho ainda maior pela democracia, pela transparência e pela inclusão nos assuntos do país. A situação que temos vindo a viver nas últimas décadas não é nem normal, nem sã. O orçamento dum país é coisa entre o governo e os representantes do povo, e não entre o governo e “parceiros”. O parlamento é o lugar onde o orçamento deve ser discutido. O orçamento tem que ter em conta as nossas receitas, e não o que os outros nos podem dar. Se não temos o suficiente para realizarmos aquilo que precisamos de realizar não vamos pedir; vamos ser mais comedidos nas nossas promessas e vamos arregaçar as mangas. Reduzamos ministérios, burocracias e despesas em nome da nossa auto-estima. Deixemos de repetir os chavões da indústria do desenvolvimento e ocupemo-nos dos nossos verdadeiros problemas. Nunca a luta contra a pobreza constituiu programa sério de governo em nenhum país verdadeiramente comprometido com o seu próprio desenvolvimento. A repetição desta imposição dos nossos “parceiros” tem nos impedido nos últimos anos de darmos a devida atenção a questões estruturais mais prementes como, por exemplo, a segurança social, a promoção do emprego, a formação profissional e a criação dum sistema de saúde digno desse nome, entre outras coisas.
Devemos incutir nova dinâmica ao processo de formulação de políticas no país. A qualificação para ministro devia depender da capacidade do(a) candidato(a) de ter um plano claro de auto financiamento dos planos que tem na manga. Devia ser motivo de desqualificação formular programas cuja realização depende do apoio de doadores. Aspectos importantes da política deviam ser objecto de ampla discussão na esfera pública. Estou a pensar, por exemplo, na estratégia de desenvolvimento rural que foi aprovada sorrateiramente sem que tivesse havido debates sérios e quentes na esfera pública. Não é possível que uma peça tão importante do nosso desenvolvimento passe assim mesmo sem outras ideias, tensões e divergências. Sem prejuízo do princípio colegial que deve reger a acção do governo devia ser possível governantes mostrarem ao seu eleitorado que têm ideias diferentes em relação ao que se deve fazer e não se sentirem sob a obrigação de entrar numa linha de concordância que é, muitas vezes, função apenas dos seus próprios receios e sentido oportunista. Há tanto que precisa de mudar em nós para começarmos a apreciar devidamente a humilhação que é a dependência.
Estas greves regulares de doadores são ofertas de emancipação. Devemos aceitá-las, caso contrário vamos viver a nossa vida recebendo ajuda de quem não nos quer desenvolver, mas sim... ajudar, sempre. Eu mandava passear os …
ELÍSIO MACAMO- Sociólogo
Texto originalmente publicado aqui